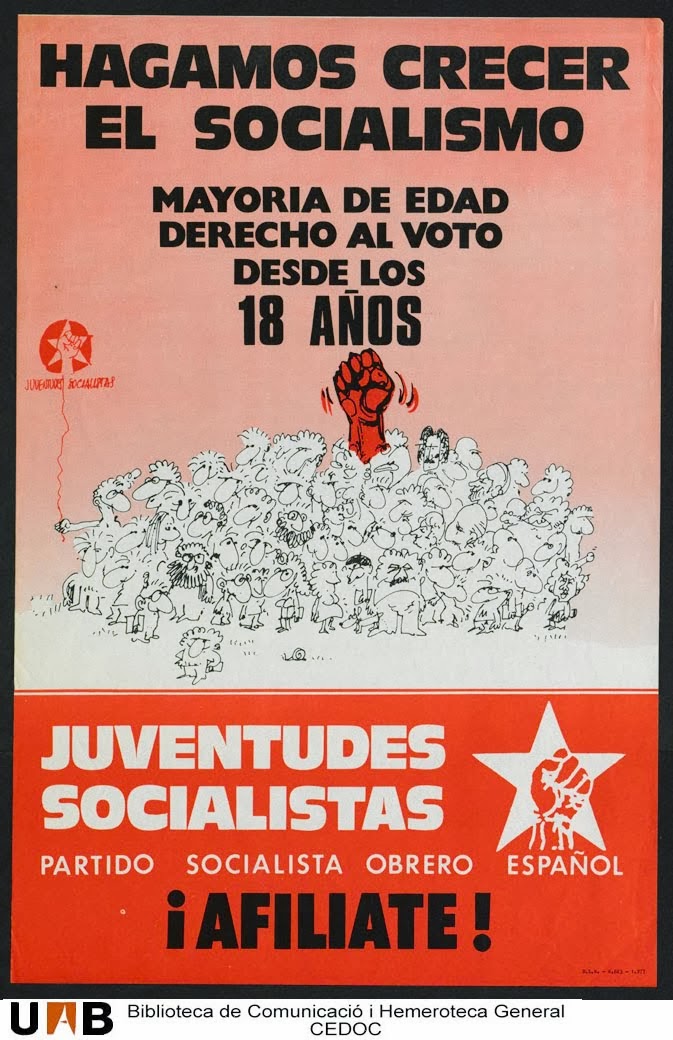Portugal, Juventude e Utopía.
Portugal, Juventude e Utopía.Creio que me deram a honra de vir aqui hoje por ser poeta. A única ciência que tenho é essa, a da poesia. Perdoem-me a imodéstia de a considerar a ciência mais exacta. Não tenho outra sabedoria senão essa, a da poesia, a única que, segundo Novalis, é capaz de apreender o real absoluto. Cada palavra é um pedaço do universo. Ou como dizia outro poeta: “Na natureza da palavra viva, esconde-se a matéria luminosa do universo.” Creio na eficácia mágica da palavra. Creio que com palavras se pode convocar as forças benfazejas ou exorcizar as forças maléficas. Creio que com palavras se pode mudar a vida e transformar o mundo. Mas creio também que uma palavra errada pode alterar o equilíbrio cósmico. Por isso fiquei aflito quando o Dr. Torres Pereira me convidou para usar da palavra nesta universidade que, por coincidência, tem o nome de um dos meus livros. Tenho medo do efeito do que possa dizer. Comecemos, por exemplo, pela palavra Atlântico. Nós somos essa palavra. Segundo Jaime Cortesão, a convergência dos caracteres atlânticos é um dos factores da formação de Portugal. A atlanticidade é a essência da nossa identidade. Talvez por isso o poeta Afonso Duarte escreveu: “Há só mar no meu país.” Atlântico, já uma vez o disse, é uma pátria. Portugal fez-se para fora, fez-se navegando e descobrindo, e navegando e descobrindo ensinou o mundo a não ter medo do mar, aproximou continentes e povos, operou a revolução cultual e científica que esteve na base do renascimento, abriu caminho à primeira globalização e foi de certo modo Europa antes de a Europa o ser. Navegando e descobrindo fez, como disse Pessoa, que o mar unisse, já não separasse. Mas navegando e descobrindo de si mesmo um pouco se perdeu. Estão a ver a carga histórica que está dentro da palavra Atlântico. E o privilégio que é ser aluno de uma Universidade tão ligada ao nosso destino colectivo. E a responsabilidade de ser convidado para intervir na abertura do ano lectivo. Peço ao Atlântico que me dê a sua bênção e ao ritmo das suas ondas que me inspire. Porque não é fácil vir aqui falar a quem tem outra idade, outras vivências, outra maneira porventura de olhar o mundo. Não acredito em gerações sem causas. Não sei, aliás, se acredito em gerações. Dentro do que se convencionou chamar geração há quem saiba compreender, interpretar e até mudar a sua circunstância histórica. E há quem se conforme ou simplesmente não dê por nada. A minha geração, chamemos-lhe assim, teve uma circunstância histórica diferente da vossa. Como já tive ocasião de escrever, a minha geração foi ocupada pela História. A História invadiu as nossas vidas, circulou nas palavras, nos ritmos, nos amores, por vezes foi quase uma obsessão. Não só porque nascemos e crescemos com uma ditadura, mas porque, a páginas tantas, fomos chamados para a guerra. Uma guerra que talvez muitos de vocês hoje vejam de maneira diferente, alguns, se calhar, quase com a nostalgia de a não terem feito. Para nós não foi um filme, nem um romance, nem uma aventura. Foi algo que fez nascer dentro de nós uma terrível pergunta: porquê morrer, porquê matar? Era uma questão concreta, não apenas imaginária. Porquê morrer e matar? Em nome de quê? E para quê? Não era só a interrupção das nossas vidas, o corte nos estudos e nas profissões, a separação das famílias, o partir para longe, para terras para nós desconhecidas num tempo em que não havia telemóveis nem a facilidade de informação e comunicação que há hoje. Não era só o desperdício da nossa juventude, era sobretudo essa terrível questão moral: porquê? Para quê? Tanto mais que muitos de nós sabíamos o que tinha acontecido na Indochina e na Argélia, sabíamos que o movimento da História era no sentido do direito dos povos a disporem dos seus próprios destinos e sabíamos, também, que, apesar dos encontros e desencontros, dos erros e até dos crimes, se é legítimo falar de uma cultura portuguesa o essencial dessa cultura é um certo universalismo, a capacidade de compreender o outro e a diferença. Melhor do que ninguém o exprimiram Camões nas Endechas a Bárbara Cativa, um dos mais belos poemas do amor e do anti-racismo, e Pero Vaz de Caminha quando, na Carta a D. Manuel em que lhe dá a nova do achamento do Brasil, exalta a beleza das índias e dos índios, de quem diz serem eles mais amigos nossos que nós deles, o que é uma autocrítica e um elogio da diferença. Ora aquela guerra para que fomos chamados em 1961 vinha, no meu entender e no de muitos outros, ao arrepio do movimento e do sentido da História, não só a do presente e do futuro, mas também do passado. “É-se tanto mais português quanto mais universal”, disse Fernando Pessoa. E foi também ele que escreveu esse verso imperecível: “Portugal, futuro do passado.” Ora “Portugal, futuro do passado” era um Portugal que tinha de rimar com liberdade e respeito pelos outros, não com ditadura nem com guerra. Por isso a nossa circunstância histórica impôs a muitos de nós o dever moral de sermos contra. “É preciso ser contra isto para ser por isto,” ouvi muitas vezes dizer a Miguel Torga. Para Octávio Paz, o grande escritor mexicano, Prémio Nobel de Literatura, “a liberdade não é uma filosofia e nem sequer uma ideia: é um movimento de consciência que nos leva, em certos momentos, a pronunciar dois monossílabos: sim ou não.” A minha circunstância histórica levou-me a dizer não. Havia então um grande não para dizer. Se algo distingue a minha geração é esse não: um não histórico, poético, moral e cultural. As novas gerações vêem este acontecimento talvez de outro modo. Não estiveram lá, não o viveram por dentro, não sofreram o Portugal amordaçado daqueles dias. Por outro lado, talvez nós próprios não tenhamos sabido transmitir a nossa vivência. Os responsáveis por alguns mal entendidos ou até pelo desconhecimento e incompreensão do que foi esse tempo somos nós, os da minha geração, não os que vieram depois. Os mais novos não têm a obrigação de saber, nós é que tínhamos e temos o dever de lhes dizer como foi. Talvez por isso existam algumas ambiguidades. Segundo um estudo intitulado “Consciência Histórica e Identidade – Os jovens portugueses num contexto europeu”, realizado pelo Instituto de Ciências Sociais e coordenado por José Machado Pais, os jovens portugueses combinam “uma razoável afirmação da democracia com uma extrema crítica da mesma.” Há, segundo esse estudo, uma ambivalência: “o poder da crítica que a democracia confere aos jovens não os impede de serem críticos em relação à própria democracia.” Outra ambivalência é relativa à Europa. Os jovens portugueses são dos que mais pensam que a integração europeia é positiva para ao países europeus. Mas ao mesmo tempo são críticos em relação ao próprio conceito de Europa. Uma terceira ambivalência diz respeito ao colonialismo. Os jovens portugueses são dos que mais defendem a representação do “colonialismo como aventura”; em contrapartida são críticos do “colonialismo como exploração”. Finalmente: os jovens portugueses, juntamente com os gregos, são os jovens europeus que mais entusiasmo mostram pela História, o que contradiz o pretenso desinteresse que os nossos professores lhes atribuem por esta disciplina. Tanto para portugueses como para gregos as identidades nacionais são identidades retrospectivas, alimentam-se do passado. Tal atitude, segundo Machado Pais, é própria de quem vive “numa situação de relativa periferização económica, mas, em contrapartida, valoriza o seu passado histórico.” Os dados deste estudo são sem dúvida interessantes e permitem compreender um pouco melhor o que pensam e sentem os jovens portugueses. Um pouco, sublinho. Porque nenhum inquérito permite ler por completo o pensamento e a alma de uma juventude. A vivência é pessoal e intransmissível. Mas aos que procuram a sua afirmação identitária na nostalgia do passado, eu gostaria de lembrar que o poeta Teixeira de Pascoaes, autor de Arte de Ser Português, dizia que a saudade portuguesa é sobretudo uma saudade prospectiva, uma saudade do futuro. Foi essa ânsia de futuro que na era quinhentista levou os portugueses pelo mar fora. É ela que de certo modo afirma a nossa identidade. E é ela que tem de conduzir a novos sonhos. Permitam-me apontar duas possíveis diferenças entre a geração anterior e a actual. A minha geração foi muito marcada por utopias e projectos colectivos. Creio que os jovens de hoje estão mais voltados para a realização pessoal. A utopia é individual e talvez mesmo individualista. Outra diferença, porventura a mais importante. A minha geração viveu um tempo marcado pela escassez de informação. A censura e a ausência de liberdade de informação obrigavam-nos a um grande esforço de procura, de pesquisa, de leitura. A informação que se obtinha era talvez mais sedimentada, mais suada, mais confirmada. Hoje, a liberdade de informação e a revolução tecnológica, com os novos meios existentes, televisão, internet, telemóvel, etc, inundam as novas gerações de um excesso de informação. Há talvez informação a mais e confirmação a menos. Atomização, fragmentação, dispersão. É muito difícil distinguir o que é verdade e o que não é, o que tem qualidade e o que não tem. Esta atomização informativa leva também à fragmentação cultural e à dispersão dos projectos. A circunstância histórica que vivi favorecia os projectos colectivos. Hoje é mais difícil estabelecer pontes entre o que está disperso. Mas isto não significa que não haja causas, nem ideais, nem novas utopias. A minha geração foi marcada pela ditadura e pela guerra. Mas sabíamos que uma vez terminado o curso o emprego estava garantido. Para as gerações actuais, a dificuldade do primeiro emprego e a insegurança do futuro são as grandes ameaças. Mas a responsabilidade será da Escola? Será que a Escola não prepara para a vida profissional? Segundo o estudo Jovens Portugueses de Hoje – Resultados do Inquérito de 1997, coordenado pelos Professores Manuel Villaverde Cabral e José Machado Pais, o que se verifica no nosso país não é a inadequação da escola ao mercado de trabalho, é precisamente o contrário. O aparelho produtivo não tem sabido incorporar a mão de obra jovem mais qualificada de que o país hoje dispõe. O sistema produtivo continua a pensar em moldes tradicionais e aposta na mão de obra menos qualificada. Entretanto, o número de estudantes dos 15 aos 19 anos duplicou entre 1981 e 1991. Mas a taxa de actividade juvenil decaiu fortemente no mesmo período. O peso dos jovens na população activa portuguesa era, em 1997, de apenas 25,3%. O desemprego atinge sobretudo jovens licenciados ou com ensino secundário completo. Mas poder-se-á falar de sobrequalificação dos jovens, quando Portugal, no que respeita aos níveis de escolarização, continua na cauda da Europa? Esta é uma questão essencial, sobretudo quando tanto se fala na falta de competitividade do país. Uma questão que não se resolve com desemprego, nem baixos salários, nem com apelos a novas formas de proteccionismo, muito menos com cortes na Educação. A questão da competitividade resolve-se apostando na qualificação dos jovens e na aproximação das forças produtivas à Universidade. É preciso mudar o mercado de trabalho. Isso passa por um pacto entre a Universidade e as forças produtivas. E passa sobretudo por uma reforma de mentalidade de grande parte dos nossos empresários. Aquela reforma de mentalidade que, segundo o grande mestre António Sérgio, era condição da viabilidade de todas as outras reformas. Eu penso que falta essa reforma de mentalidade. Falta uma reforma cultural que tem de passar pela ligação directa das forças produtivas à Universidade. Só assim se poderá adequar o mercado de trabalho aos jovens mais qualificados. E só assim se poderá vencer em Portugal a batalha da competitividade. O desemprego juvenil é uma outra forma de guerra, uma outra forma de ser invadido pela História e de sofrer as mutações que trazem consigo outros angústias, outros medos, outras interrogações. Mas, também, novos apelos e novas causas. Num mundo globalizado e unipolar, marcado por um lado pela uniformidade, a economia única, o pensamento único, a cultura única e, por outro, por uma certa etnização ou “bigbrotherização” da vida, num mundo em que a hegemonia económica, política e cultural caminha a par com novas formas de desagregação e fragmentação, é necessário um novo sonho, um novo golpe de asa, um novo suplemento de alma. Creio que, para além das causas que são próprias a cada geração, há uma causa que nos é comum a todos: essa causa é Portugal. O nosso país foi sempre um país aberto ao mundo. Nação piloto e pioneira no encontro com outros povos e outras culturas. Quando as nossas naus desbravavam o mar desconhecido nós fomos então os primeiros europeus. Tal só foi possível porque, enquanto os outros países da Europa se digladiavam em guerras intestinas e feudais, Portugal tinha feito a revolução de 1383-85, que foi a primeira revolução popular e nacional da Europa. Como escreveu Dominique Lelièvre no seu belo livro Mer et Révolution, o povo português foi também um povo pioneiro no despertar do sentimento nacional. Esse sentimento não está nem nunca esteve em contradição com o espírito de abertura aos outros. Mas na era da globalização e da construção europeia, de que somos parte integrante, é preciso reavivar e dar uma nova perspectiva ao sentimento nacional. A nossa participação na construção da Europa não significa a diluição de Portugal. Pelo contrário: mais do que nunca é necessário um projecto nacional. Queremos ser europeus de primeira. Mas só o seremos se soubermos preservar a nossa identidade. Que é como quem diz: a nossa atlanticidade. Não podemos voltar as costas ao mar. Teremos tanto mais força na Europa quanto mais soubermos projectar no mundo a nossa vocação e tradição atlântica. É essa a nossa singularidade. E eu diria mesmo: a nossa primeira e permanente utopia. Talvez, aliás, muitos de nós não saibam que Utopia tem uma raiz portuguesa. Segundo Thomas More, teria sido um marinheiro português chamado Rafael que, num bar de Amsterdão, lhe teria falado dessa ilha perfeita. Onde ficava essa ilha ele não o disse. Então Tomas More chamou-lhe Nusquama, palavra que, em latim, significa Em Parte Alguma. Mas o seu amigo Erasmo ter-lhe-ia aconselhado a substitui-la pela palavra grega Utopos, que quer dizer o mesmo: Em Parte Alguma. Talvez a ilha só tenha existido na imaginação daqueles que a procuraram. Talvez ela seja um pouco de todas as ilhas. Talvez ela não seja mais do que a própria demanda. Ou talvez, como insinuava Torga, ao falar da “índias de dentro”, ela só exista, afinal, dentro de cada um de nós. Está aqui e não está. É toda a parte e nenhures. E talvez Rafael seja todos os marinheiros portugueses e nenhum. Talvez seja afinal um pouco de todos nós. O certo é que Thomas More atribui à sua Utopia essa estranha origem, uma história contada numa taberna de Amsterdão por Rafael, marinheiro português. De qualquer modo é uma história magnífica e fantástica. Talvez mais do que nunca nós precisemos de encontrara um novo Rafael, que nos fale de uma nova ilha, mesmo que essa ilha não exista em parte alguma ou só exista dentro de nós e se chame Utopia. Porque a verdade é que a História, como disse Joyce, se tornou um pesadelo. Bárbaros, para os gregos antigos, erram os que não falavam a mesma língua e não adoravam os mesmos deuses. Hoje, os novos bárbaros são os que não falam senão a fria linguagem do cifrão. E que substituíram os antigos deuses pelos sacrossantos mercados, de cujas variações decorre o bem-estar de poucos e o sofrimento da maioria da humanidade. Os oráculos dos antigos deuses deram lugar aos novos oráculos: as cotações da bolsa, as ordens de compra e venda dos corretores. Das suas indicações depende a vida das empresas, das famílias, das economias nacionais. E também das nossas culturas, das nossas línguas, das nossas identidades. É agora, com a perda do sentido e a ausência de uma perspectiva, que a História está a dar razão ao pessimismo de Joyce. Não porque tenha acabado. Mas porque deixámos de saber para onde vai. Que podemos nós contra a nova barbárie? Que podemos nós contra a violência e a injustiça? Que podemos nós contra uma lógica económica que exclui dois terços da humanidade? Eu penso que é preciso revelar este mundo, denunciar as suas injustiças e violências. E criar um outro. Não é um problema de geração. É uma responsabilidade de todos. Criar um outro mundo. Iniciar uma nova demanda. E por isso eu falei de Rafael, marinheiro português da Utopia. Porque não temos outra navegação senão essa: a busca de um mundo mais livre, mais justo e mais fraterno, como se diz, aliás, no preâmbulo da nossa Constituição, que tive a honra de escrever. Em toda a parte, aqui, dentro de nós. Eis o que tinha para vos dizer. Nunca gostei que me impusessem obrigações. Também nunca suportei a sujeição e a injustiça. A minha bandeira é a liberdade livre cantada pelo poeta Artur Rimbaud. A minha arma tem sido aquele “terrível poder de recusar,” de que falava Miguel Torga. Aprendi com António Sérgio a pensar livre e criticamente contra o reino cadaveroso do dogmatismo e do sectarismo. Por isso não esperem de mim que diga o que os jovens devem ou não fazer. O que peço aos jovens de hoje não é que sejam iguais a nós. O que lhes peço é que sejam eles próprios, que pensem pela sua cabeça e não se deixem instrumentalizar nem manipular por quem quer que seja. Parafraseando o velho Sartre, eu digo-lhes: “Não tenham vergonha de agarrar a lua, porque nós precisamos dela.” E digo-lhes ainda: não tenham medo de ousar o impossível, porque só a juventude capaz de ousar o impossível pode obrigar o poder a ousar pelo menos um pouco do que é possível. Vivam a vossa vida, ousem a vossa vida, ou, como queria o filósofo, dancem a vossa vida. E sejam o inconformismo, a irreverência, a rebeldia e o contra-poder de que todos os poderes precisam. Tendes nas vossa mãos o mais formidável de todos os poderes: o poder da juventude. Só esse poder é capaz de mudar a vida e transformar o mundo.
Discurso na Universidade Atlântica
12.11.2002